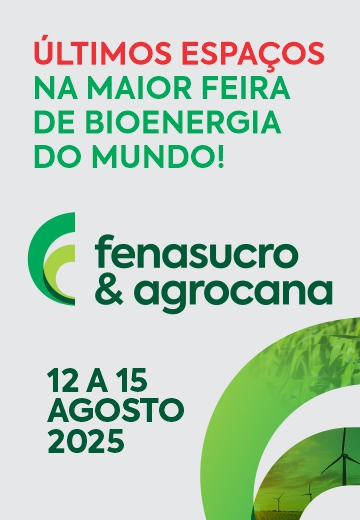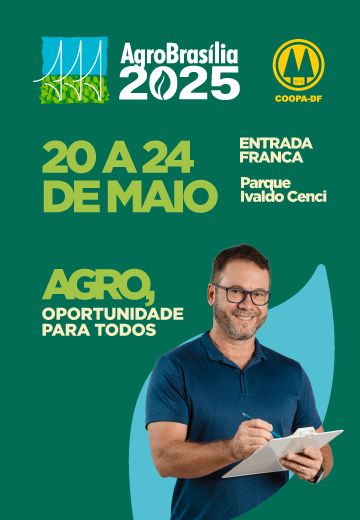Questão de bom senso: agronegócio e meio ambiente podem, sim, viver em clima harmônico de união estável no Brasil. Caminhos e soluções não faltam.
Marcus Frediani

No mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, a Revista AgriMotor traz uma entrevista exclusiva com Pedro Krainovic – doutor em Ciências de Florestas Tropicais, membro do Laboratório de Silvicultura Tropical (LASTROP) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, e pesquisador “pós-doc” na mesma entidade de ensino, que fala sobre a intensa e nem sempre convergente relação entre agronegócio e meio ambiente. A boa notícia que ele traz, entretanto, é que é possível alinhar eficientemente os objetivos de ambos, e que há grandes chances de transformar esses embates em parcerias produtivas para o bem do Brasil.
AgriMotor: Pedro, no aspecto técnico, qual a relação entre agronegócio e meio ambiente?
Pedro Krainovic: Bem, uma coisa não existe sem a outra. Considerando o meio ambiente como sendo os recursos naturais conservados, eu diria que o agronegócio depende das condições que ele oferece. Em outras palavras, o meio ambiente regula – por meio do seu provisionamento de água, as variações climáticas e os aspectos relacionados ao solo, ou seja, pela oferta de recursos ambientais –, as condições nas quais a base do agronegócio se desenvolve. Esse seria um aspecto técnico, no qual é evidente que o futuro do agronegócio depende da preservação ambiental.
E como é essa relação sob o ponto de vista da legislação?
No sentido de as terras agricultáveis ela é regida por uma série de exigências do Código Florestal, que precisam ser cumpridas. Por exemplo, dependendo do bioma, o código estabelece um percentual de reserva legal, com a observância e a manutenção das Áreas de Proteção Permanente, as APPs.

Na prática, o que o novo Código Florestal Brasileiro trouxe de bom para essa relação?
Por meio dele, o Congresso Nacional estabeleceu uma série de medidas para preservar ou restaurar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que criou condições para que os produtores rurais pudessem desenvolver suas atividades dentro da lei. À época da discussão do novo Código Florestal, temas como a manutenção das Áreas de Preservação Permanente, a possibilidade de soma das áreas de reserva legal e, ainda, a concessão de anistias foram bastante discutidos. Contudo, os aspectos mais relevantes talvez sejam o incentivo aos produtores rurais para que estes recuperem as áreas degradadas – por meio da conversão de multas ambientais em ações de recomposição da vegetação suprimida –, bem como à obediência aos limites legais de uso do imóvel rural, por meio do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Contudo, ele tem arestas que precisam ser aparadas.
Quais, por exemplo?
A primeira, tem a ver com um problema bem antigo, que é a falta de braço do governo promover a fiscalização, porque isso demanda investimentos, coisa que a gente não vê, ou vê muito pouco. Já em termos ecológicos e de serviços ecossistêmicos, não se pode comparar um ambiente equilibrado e estabilizado ao longo do tempo com um plantio de reposição, que pode demorar décadas para atingir o mesmo ponto em termos dos mecanismos ecológicos ali presentes. Nesse caso, o que a gente costuma verificar é somente uma reposição da matéria-prima retirada, mas não uma indenização geral pelo dano, ainda mais considerando que estes vão além da mera retirada da árvore, como, por exemplo, o tempo em que o solo permaneceu sem a vegetação e os impactos relacionados. Dá ainda para destacar a composição florística, a sucessão florestal, a propagação e atração de animas dispersores e polinizadores, a matéria orgânica do solo, estrutura do solo, fauna edáfica, infiltração de água no solo, controle da Erosividade, leia-se o poder intrínseco da chuva em causar erosão, que é um problema relacionado à proteção do solo. Então, isso tudo nos remete àquilo que mencionei no início desta resposta, que é pensar que a recomposição precisa ser assistida ao longo do tempo, no longo prazo, e isso demanda pessoal, e pessoal qualificado, além da fiscalização.

E qual o papel e o grau de dificuldade de fazer a compensação?
A compensação traz um aspecto qualitativo ao se preocupar com o dano relacionado a determinadas espécies, que devem ser implantadas em uma área a ser definida. Esse mecanismo já mostra maior preocupação, porém ainda se encaixa no aspecto de acompanhamento de longo prazo, o Código Florestal estabelece a destinação de 20% dos imóveis rurais localizados nos biomas Mata Atlântica e Cerrado para formação de Reserva Legal, sendo que, na realidade, grande parte dos imóveis rurais do estado de São Paulo, por exemplo, já não dispõe de vegetação suficiente para o cumprimento dessa obrigação. Nesses casos, a legislação prevê duas alternativas: a recomposição ou regeneração da reserva no interior do próprio imóvel ou compensação em imóveis de terceiros.
Mas isso não deveria se tornar óbvio a partir da análise do Cadastro Ambiental Rural?
O CAR possibilita ao Estado monitorar a situação das propriedades via imagens de satélite, utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Porém, ele também tem arestas que precisam ser aparadas. Uma delas seria o funcionamento da máquina pública na análise da declaração do CAR, dificultada pela falta de pessoal qualificado e de estrutura, padronização dos formatos utilizados na declaração, sobreposição de cadastros, disponibilidade de módulos para populações quilombolas, indígenas e por aí vai. Não se vê, ou se veem muito poucos movimentos no sentido da desburocratização, modernização e capacitação dos órgãos responsáveis. Esse contexto levou à contínuas prorrogações das datas limites de cadastro e muito custo, enquanto o atingimento do principal objetivo, que é o monitoramento do uso do solo e a recuperação de áreas com passivos continua aquém do planejado. E isso não para por aí. A partir do momento que o crédito rural ou crédito de maneira geral se condiciona à existência do CAR, isso também abre a necessidade de fiscalização por parte do governo, que sabemos, repetindo o que eu já disse, não está sendo colocado em prática por falta de pessoal e de recursos. Então, a questão do desmatamento ainda é um problema a ser equacionado.
Tudo isso faz a gente pensar: tem jeito de o Brasil aumentar sua capacidade de produção sem ferir o meio ambiente?
Tem jeito, sim. Em primeiro lugar, o Brasil tem áreas abertas o suficiente para expandir sua fronteira agrícola, e ainda restaurar a vegetação em uma quantidade enorme de terras. Segundo a Embrapa, só na Amazônia, há 17 milhões de hectares cortados, desmatados e abandonados, que poderiam se tornar terras produtivas, seja pela agricultura, seja por modelos produtivos de restauração florestal. Outra coisa é que é praticamente consenso entre pesquisadores e profissionais que trabalham com meio ambiente, e que já enfatizei no início dessa nossa conversa, é que o futuro do agronegócio depende da preservação ambiental.

E qual a resposta para transformar teoria em prática tendo em tela essa premissa?
Bem, a resposta precisa passar por ciência e tecnologia, mas também precisa abranger as vontades e os mecanismos políticos, por meio de incentivo à agricultura familiar, regulação dos métodos cultivo e manejo – por exemplo, o uso de agrotóxicos – e, de novo, a fiscalização. E, claro, para ter acesso a esses incentivos, também se faz necessária uma maior organização e melhor capacitação de cooperativas agrícolas de baixo e médio porte. Falo da capacitação porque a existência de agricultores que não têm preocupação alguma com a sustentabilidade ou com o longo prazo, faz com que encontrar soluções para o problema passar pela questão do incentivo à educação, à cultura e à formação técnica adequada.
Objetivamente, em termos de caminhos a serem seguidos para a conquista da sustentabilidade, quais seriam, na sua opinião, as melhores rotas?
Em termos científicos e tecnológicos, vejo duas grandes esferas que precisam ser trabalhadas. A primeira diz respeito à necessidade da realização de estudos de base para avanço do conhecimento. Aí, posso dar como exemplo a principal agenda da década para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a restauração florestal, que pode, sim, ter valor agregado a partir do conhecimento dos critérios técnicos, que cobrem tanto os critérios ecológicos quanto os econômicos. Exemplo disso é a silvicultura de espécies nativas produtoras de produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Entre outras coisas, faz-se necessário o estabelecimento de um programa de P&D para conhecer melhor esses aspectos das espécies nativas brasileiras, tanto da Floresta Atlântica e da Amazonia quanto em outros biomas. Com essa base técnico-científica, será possível trabalhar a restauração florestal , bem como produzir e atingir objetivos de sustentabilidade.
Mas você mencionou duas esferas: qual é a segunda?
Então, a segunda esfera que preciso destacar é a do incentivo à adoção de tecnologias e saberes já criados, já estudados. Para tanto, faz-se necessário um programa de incentivo maior à agricultura familiar, reconhecidamente uma agricultura de baixo impacto ambiental e com alto potencial de geração de renda e emprego, que, aliás, já é responsável por grande parte da alimentação do povo brasileiro. Além disso, é preciso ampliar a adoção de sistemas consorciados, de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e de integração lavoura/pecuária/floresta, além de outros sistemas mais sustentáveis. Outro exemplo que posso fornecer – dessa vez considerando as práticas utilizadas em larga escala – são as ferramentas tecnológicas de Agricultura de Precisão. Embora já utilizadas, ainda são escassos os exemplos do uso delas.
Como elas podem ajudar?
De muitas formas. Uma tecnologia a partir do uso de imagens de satélite e de outras tecnologias geoespaciais, por exemplo, considera as características específicas da variação ambiental de uma propriedade, utilizando as medidas corretas de manejo, tais como o manejo do solo com fertilizante ou correção do pH, sem excessos ou falta, evitando assim a transferência de quaisquer resíduos para outros lugares que não a cultura de interesse.
Entre outras coisas, isso, com certeza, valoriza a questão da preservação ambiental.
É isso. A partir do momento em que o meio ambiente regula as condições nas quais a base do agronegócio se desenvolve, a conservação assume papel fundamental. E a partir do momento em que o ambiente agrícola tem água de qualidade, com a manutenção do regime de distribuição das chuvas, sem necessidade e custos com tratamento, passa a ter perenidade de água garantida pelas florestas nas bacias hidrográficas, sem longos períodos secos. Adicionalmente, passa a ter solos férteis com sua fauna edáfica biodiversa, e tem biodiversidade de maneira geral. Além disso, os cultivos, mesmo aqueles com maior grau de melhoramento genético e seleção, se favorecem em produtividade e em ambientes com maior controle natural de pragas.

Porém, o desmatamento, problema ainda sério no Brasil, acaba prejudicando todo esse equilíbrio. Quais os principais argumentos que atestam essa constatação?
Eles não são difíceis de descrever. Com o desmatamento, o ambiente se desequilibra, afetando a umidade, temperatura, com efeitos diretos na ação de polinizadores e na ocorrência de espécies benéficas à manutenção do equilíbrio ecológico e, consequentemente, da produtividade. No Brasil, por exemplo, a regulação do clima depende muito do que acontece na Floresta Amazônica, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com processo de evapotranspiração que contribui enormemente para o regime de chuvas no Brasil, atuando diretamente na formação de nuvens. E as altas taxas de desmatamento reportadas levam a uma projeção desanimadora do que pode acontecer na porção brasileira de maior produção.
Isso, sem falar da questão do famigerado aquecimento global, não é mesmo?
O desmatamento leva diretamente ao aquecimento global, que torna o clima mais instável e aumenta a frequência de extremos, como ondas de calor e estiagens e chuvas em excesso. E temos, ainda, os riscos adicionais criados pela devastação das florestas, que, ao deixarem de proteger o solo geram impactos como a falta de reposição da água nos lençóis freáticos e o processo de erosão e poluição dos rios. Se a gente conseguisse resolver isso, o produtor rural se favoreceria diretamente ao conseguir planejar sua safra com maior segurança e maior produtividade, diminuindo os riscos associados.
Falando em riscos, em que proporção o uso desenfreado de agrotóxicos e defensivos agrícolas afetam o meio ambiente?
É difícil mensurar e falar sobre uma proporção exata. O que se sabe é que o uso de agrotóxicos afeta principalmente os cultivos que dependem da polinização, já que os animais polinizadores – as abelhas, os besouros, as borboletas, as vespas e até as aves e morcegos – são fortemente afetados por alguns tipos de inseticidas e até por herbicidas usados contra pragas em lavouras, ocasionando desde mortes por envenenamento a desorientação durante o voo. E na contramão disso, segundo o Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 60% das culturas depende desses polinizadores. Ou seja, em termos de resultados de safra, cerca de 25% da produção nacional é dependente de polinização. Então, com esses números, fica fácil entender o tamanho do problema.
E mesmo quem não faz uso massivo de agrotóxicos acaba saindo prejudicado nessa história?
A resposta é: sim. No caso de culturas vizinhas, não existe um controle de aplicação que possibilite o não espalhamento desses produtos no ambiente. Por isso, muitas vezes, as culturas adjacentes são impactadas negativamente, causando grandes prejuízos econômicos. Além disso, existe uma falsa impressão de que o aumento de produção esteja atrelado ao uso de agrotóxico: na verdade, o aumento de produção tem alta correlação com aumento do aparato tecnológico, principalmente quando se fala em commodities.